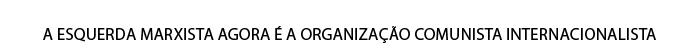Esta resenha foi enviada ao nosso site pelo companheiro Tiago, leitor de nossas publicações. Consideramos oportuna a divulgação do texto, por evidenciar como os históricos crimes do PSDB foram tratados com o amigável silêncio da grande imprensa e a conivência da justiça.
Esta resenha foi enviada ao nosso site pelo companheiro Tiago, leitor de nossas publicações. Consideramos oportuna a divulgação do texto, por evidenciar como os históricos crimes do PSDB foram tratados com o amigável silêncio da grande imprensa e a conivência da justiça.
Na véspera dessas eleições, a revista Veja adiantou sua publicação de domingo para sexta, para divulgar um suposto escândalo envolvendo Lula e Dilma no caso da Petrobras e, dessa forma, tentar interferir no resultado de domingo, favorecendo Aécio, do PSDB. É uma ação desesperada e descarada da grande mídia para favorecer o candidato de sua preferência e derrotar e desmoralizar o PT.
Assim como fizeram no caso da farsa do dito julgamento do mensalão. É o ódio de classe que se expressa, apesar de toda a política de colaboração de classes desenvolvida pelo próprio PT que, vergonhosamente, negou-se a levar uma campanha pela anulação do julgamento da AP 470 e a reverter as escandalosas privatizações da era FHC.
É um interessante texto, com boas informações.
O Editor
O livro O Príncipe da Privataria (2013, Geração Editorial), do jornalista Palmério Dória, narra as façanhas que FHC e sua trupe fizeram para garantir a reeleição e alienar o patrimônio público.
Recheado de “segredos de polichinelo” sobre a “má conduta” de membros da administração tucana, o livro expõe claramente como a política está longe de ser uma ciência exata: a administração FHC pôde ignorar incontáveis denúncias de desvio de dinheiro público porque o espírito da época – a vitória inconteste do neoliberalismo, o apoio dos meios de comunicação à “revolução liberal”, a parcialidade da Justiça, etc. – não permitia que os “segredos de polichinelo” (“segredos” conhecidos por todo mundo) se materializassem em alguma forma de questionamento da ordem, seja na forma de CPIs ou operações da Polícia Federal.
O primeiro segredo de polichinelo que Palmério Dória expõe refere-se ao “caso Miriam Dutra”, a repórter da Globo com quem FHC teria tido um filho, em 1991, quando ainda era senador. Malgrado um exame de DNA em 2011 tenha revelado, afinal, que FHC não era pai de Tomás, durante anos a grande mídia fez um pacto de silencio sobre a questão. Quando Palmério Dória publicou, em 2000, na revista Caros Amigos (da qual era editor) a capa: “Por que a Imprensa esconde o filho de oito anos de FHC com a repórter da Globo?”, rompeu-se pela primeira vez o silêncio na mídia. E a duras penas: Palmério conta como os diretores de redação de várias publicações recusaram-se a conversar ou dar informações sobre o assunto. A Editora Abril, por exemplo, recusou-se a vender a foto que possuía de Miriam Dutra. Dizia que não publicava ou investigava assuntos de “ordem afetiva”, porque não havia interesse público na questão. Mas investigaram o caso da namorada do Celso Pitta, do Renan Calheiros, investigaram os boatos, nas eleições de 1989, de que Lula tinha coagido sua ex-namorada a abortar. Porque – em editorial com o título “O Direito de Saber”, publicado três dias antes do segundo turno das eleições de 1989 – o Jornal O Globo argumentava que os eleitores tinham direito de saber de detalhes da vida pessoal dos candidatos. E do Fernando Henrique?
O segundo segredo de polichinelo trata da aprovação da emenda da reeleição, em 1998. Enquanto no Peru o presidente Fujimori teve de fechar o Parlamento e calar a Justiça para aprovar sua reeleição, no Brasil FHC aparentemente conseguiu o mesmo com todo o rigor da lei. O primeiro órgão a denunciar a prática da compra de votos no primeiro mandato de FHC foi a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em 14 de abril de 1997. A Folha de São Paulo demoraria um mês para publicar reportagem intitulada “Deputado diz que vendeu seu voto a favor da reeleição por R$ 200 mil”. De fato, as conversas foram gravadas e vários intermediários foram citados. A própria Folha publicou trechos de conversas entre o Senhor X e deputados que admitiram receber propina. Uma destas gravações puxa Sérgio Motta, o Serjão, – braço direito e principal articulador de FHC junto ao Congresso Nacional – para o meio da roda. Além da propina propriamente dita, o pau de toda obra do governo FHC teria facilitado liberação de verbas para a bancada do PFL acreano (vários deputados do Acre apareciam nas gravações), bem como uma concessão de canal de TV. No final, Serjão atirou contra os deputados acreanos, que renunciaram, mas nenhuma CPI foi aberta. O senador gaúcho Pedro Simon diz que FHC comprou 150 deputados; o Senhor X diz que foram muito mais, mas a mídia só achou cinco vendedores. Questionado sobre o assunto, diz Fernando Henrique (p. 116-117): “Houve compra de votos? Provavelmente. Foi feita pelo governo federal? Não foi. Pelo PSDB? Não foi. Por mim, muito menos”. Sugerindo que os governadores também defendiam o instituto da reeleição, FHC tira o corpo fora. Vale lembrar que o então ministro Paulo Renato Souza, ao sentir resistências à emenda constitucional, depois que o presidente da Câmera e os próprios ministros de FHC foram acusados de participar no processo de compra de votos, pronunciou frase significativa (p. 117): “A reeleição não vai deixar de ser aprovada. Ela apenas vai ficar mais cara”.
No Capítulo 12, Palmério Dória revela a identidade do Senhor X – mais um segredo de polichinelo – que, calado por 13 anos, aceitou ser entrevistado pelo autor. O Senhor X é Narciso Mendes, ex-deputado federal pelo PP. Apesar de acreditar que em nosso “presidencialismo de coalizão” a compra de votos é inevitável – “se você pegar as duas maiores bancadas do Congresso, PMDB e PT, dá 180 deputados. Pra formar maioria simples, você precisa de 251 votos” (p. 123) –, diz que a compra dos votos para a reeleição se dava às escâncaras. Pontua que naquela época o Brasil era mais “transigente com a corrupção” (p. 124), principalmente porque a imprensa não denunciava tanto. Ademais, pontua a ilegitimidade da emenda da reeleição, pois constitucionalmente ela não poderia ter beneficiado FHC, isto é, a emenda só teria legitimidade caso passasse a ser aplicada apenas a partir do próximo presidente. Para Narciso, a emenda deveria se chamar Lei Fernando Henrique Cardoso.
Com a emenda da reeleição aprovada, faltava garantir maioria nas urnas. O ano 1998 era um ano em que só se falava em bolsa. Com a crise financeira asiática de 1997 fresca na memória, os investidores temiam que o Brasil estivesse se aproximando do mesmo destino. A política de juros estratosféricos e câmbio ultra valorizado (a sustentação do plano real) tinha permitido lucros fáceis aos especuladores: pegavam emprestado a 5% no exterior e investiam a 25% no Brasil. Chega uma hora em que o endividamento do país começa a ficar insustentável, as reservas se esvaem e o investidor, com medo de calote, ameaça sair correndo com seu dinheiro. Se a crise tivesse explodido em 1998, Fernando Henrique certamente não teria ganhado no primeiro turno. O quadro crítico da economia não saía nos títulos das matérias dos jornalões, mancomunados com o governo, mas na verdade o Brasil estava quebrado desde maio, quando não conseguia mais vender seus títulos (p. 254).
De fato, em julho de 1998 o FMI adverte que o Brasil estava quebrado, com déficit público na casa dos 7% do PIB, o que assusta os bancos estrangeiros e ameaça provocar incontrolável fuga de capitais. Quem salva “o Brasil” e a reeleição de Fernando Henrique é Robert Rubin, então Secretário do Tesouro Norte-Americano. Sabendo que a nossa moeda seria “destroçada” após a reeleição de FHC, o chefe do Tesouro dos EUA faz um acordo com os bancos americanos para tirar seu dinheiro do Brasil em “condições favoráveis” (p. 259): um mês depois de reeleito Fernando Henrique, o FMI lhe oferece um crédito de 42 bilhões de dólares. É claro que o Brasil não ficou com nada disso. Dória (p. 258) cita Greg Palast (2004, A Melhor Democracia que o Dinheiro pode comprar): “qualquer parcela que tenha realmente pingado no país embarcou no primeiro avião com os investidores e especuladores que o abandonaram”. A verdade é que Washington queria a reeleição de FHC, mas também queria que a crise estourasse. Numa passagem que bem poderia ter sido retirada do livro A Doutrina do Choque, de Naomi Klein, escreve Palast (apud Dória, p. 260): “Somente em caso de pânico econômico, Rubin e o FMI podem soltar os Quatro Cavaleiros da Reforma: eliminar os gastos sociais, cortar a folha de pagamentos do governo, quebrar os sindicatos e, o verdadeiro prêmio, privatizar empresas públicas lucrativas”. Assim, o alto valor do real, que “desafiava a lei da gravidade”, levou FHC à vitória no primeiro turno com 54% dos votos. A ironia é que duas semanas depois do início do seu mandato o real despenca como também despenca o índice de aprovação de FHC: em 2000, chegava ao nadir de 8%. Bem que o Lula tinha dito, em 1994, quando do lançamento do Plano Real: “esse plano econômico é um estelionato eleitoral”.
Se o Plano Real foi a esbravejada virtude da era FHC, a “privatização de empresas públicas lucrativas” foi a principal herança maldita de seu governo. Prometendo enterrar de vez a Era Vargas, desenvolvimentista, FHC estava disposto a pôr fim ao que de melhor a representava (p. 250), a saber, as garantias dos trabalhadores, mediante flexibilização das leis trabalhistas; e o orgulho nacional, mediante a entrega de nossas riquezas, as privatizações da CSN, a telefonia, a Eletrobrás, a Vale, a ponto de Itamar Franco declarar em 2006: “Houve um momento no governo Fernando Henrique de chegarmos a imaginar o seguinte: só falta deixar o mastro e levar a bandeira!”.
Aloysio Biondi – jornalista famoso por traduzir para o leitor o que os grandes grupos jornalísticos escondiam por trás do indecifrável economês e crítico voraz do processo de privatização da década de 1990 – tem seu testemunho sobre a Era FHC, O Brasil Privatizado, resumido no capítulo 16. Nesta obra, Aloysio explica como as privatizações foram “negócios da China” para os compradores e péssimos para o Brasil. Na venda do Banerj, por exemplo, o comprador pagou 330 milhões de reais enquanto o governo do Rio tomou um empréstimo de 3,3 bilhões, para pagar direitos dos trabalhadores. Já a Companhia Siderúrgica Nacional foi comprada por R$ 1,05 bilhão, sendo um bilhão em “moedas podres” – vendidas aos “compradores” pelo próprio BNDES (e financiado em 12 anos).
Essa entrega só foi possível porque a mídia fez verdadeira lavagem cerebral do povo para facilitar as privatizações: dizia que as privatizações trariam preços mais baixos “graças à maior eficiência das empresas privadas”. Ora, hoje pagamos talvez a maior tarifa de celular do mundo e uma das maiores tarifas de energia, a despeito de termos uma das matrizes energéticas mais limpas e teoricamente mais baratas do mundo. Não só houve reajustes de até 500%, nas telefônicas, e de até 150%, nas tarifas elétricas, logo antes da privatização, como os contratos foram feitos da maneira mais atraente possível aos compradores, com dolarização escondida da tarifa! Assim, o governo fez exatamente o contrário do que prometiam os jornais. Em relação à qualidade dos serviços, o governo e os meios de comunicação sempre esconderam que as metas para as telefônicas valeriam só a partir de 2000. Já no caso da Light o contrato chegou mesmo a prever a piora dos serviços, pois permitiu um número maior de apagões e não exigiu um mínimo racional de investimentos na área (p. 165). As multas, caso a Light ou a Eletropaulo deixassem de investir o “mínimo acordado” nos contratos eram de apenas 0,1% do faturamento: por exemplo, as empresas privatizadas deixavam de investir 100 milhões para um faturamento de 1 bilhão e pagavam apenas um milhão de multa. Mais tarde, entre 2002 e 2009, o Tribunal de Contas da União revelaria que a privataria no setor elétrico também teria causado prejuízo de sete bilhões de reais aos consumidores “em contas que não correspondiam ao que foi consumido” (p. 202). E a Aneel, Agência Nacional de Energia, criada para “fiscalizar” as empresas privatizadas, decidiu que o “montante não seria ressarcido aos consumidores”.
O neologismo “privataria” foi cunhado pelo jornalista ítalo-brasileiro Elio Gaspari para descrever o processo exemplificado acima. “Misturar privatização com pirataria se deve ao esquema adotado na Era FHC para entregar, em mãos privadas, empresas estatais – ou seja, do governo, por extensão do povo brasileiro”; e isto, a pulso, reprimindo manifestantes contrários, cooptando a mídia em peso; vendendo empresa por preço menor do que o dinheiro que ela tinha em caixa, pondo dinheiro do BNDES na mão do comprador, com indícios e mesmo provas de que rolaram desvios na casa dos bilhões, e de que muita gente ficou com as chaves de cofres em paraísos fiscais que guardam fortunas (p. 272)”.
Vale a pena citar mais exemplos. A Cosipa, Companhia Siderúrgica Paulista, foi vendida por RS 300 milhões, mas o governo ficou responsável por dívidas de 1,5 bilhão e ainda adiou a cobrança de 400 milhões de ICMS atrasado (p. 168). Na venda da CSN, o governo também engoliu dívidas de no mínimo um bilhão. Já a Telesp, por exemplo, tinha em caixa R$ 1 bilhão quando foi entregue à espanhola Telefonica, por meros 2,2 bilhões de reais. E os desembolsos nas privatizações quase nunca eram pagos à vista: eram financiados com dinheiro público a juros vergonhosamente baixos. É por isso que os lucros das empresas aumentaram tanto após a privatização: o capital privado as recebia limpinhas, com tarifas e preços reajustados e folha salarial reduzida.
Outra propaganda dos privatas, dizia Blondi, era de que as privatizações criariam novos motores da economia com a contratação de encomendas a nossas indústrias, graças aos “gigantescos investimentos” nas telecomunicações, energia, etc. Pelo contrário, as empresas privatizadas passaram a importar quase tudo que podiam e fazer remessas maciças para seus países, ampliando o rombo da época na balança comercial (p. 171-172). Alguns equipamentos das multinacionais das telecomunicações chegaram a usar 97% de componentes importados! No caso de celulares, às vezes 100% (eram só montados aqui)!
Mas o prejuízo causado pela entrega das teles aos estrangeiros não para por aí. O capítulo 25 traz depoimento de Ricardo José Ferreira, ex-funcionário da Telesp e da Embratel, para quem a privatização das teles foi a maior estupidez político-estratégica que já se fez no país, pois significou o desmonte de centros de pesquisa na área de telecomunicações, a perda de capacidade tecnológica nacional no setor, a entrega de uma área estratégica não só do ponto de vista econômico, mas também geopolítico, aos estrangeiros. Ricardo diz que a privatização das telecomunicações foi baseada numa série de premissas falhas: de que o sistema era ineficiente, atrasado, de que não havia dinheiro, etc. Segundo Ricardo, a Embratel e as estatais levaram o Brasil da Idade da Pedra ao mundo moderno, com o trabalho dos melhores engenheiros brasileiros, muitos do ITA. O sistema só não crescia o suficiente para atender à demanda por causa de questões políticas que poderiam ter sido circundadas: por lei as teles não podiam pegar empréstimos ou abrir o capital porque todos que compravam telefones eram automaticamente acionistas da empresa (você na verdade comprava as ações e recebia o direito de usar a linha), que só podia se financiar assim. Poderiam ter feito com as teles o que fizeram com a Petrobrás depois (abriram o capital), mas não era necessário vender o controle da empresa para resolver os problemas de financiamento. O argumento de que com as privatizações vieram os celulares também é falho porque as teles foram vendidas na véspera de um boom tecnológico que revolucionaria todas as empresas, estatais ou privadas (e hoje pagamos a maior taxa de tarifas de celular!). Por fim, com a perda de controle do setor, com a “desnacionalização” do setor, perdemos qualquer capacidade de fazer política industrial na área, de inovar e construir capacidade tecnológica autônoma. Diz Ricardo: “Quando foram privatizadas, a maioria das fábricas já estava com taxa de nacionalização acima de 90%. Vendíamos para a Argentina, Chile, África. Nós tínhamos uma indústria de telecomunicações…a privatização acabou com a engenharia nacional” (p. 267-267).
Mas talvez o maior exemplo da privataria tucana (cap. 30) tenha sido a venda do controle acionário da Vale (ou talvez a tentativa de vender a Petrobrás, que só não deu certo devido à resistência maciça da sociedade civil). A Vale do Rio Doce, então a maior exportadora de minério de ferro do mundo, foi privatizada por R$ 3,3 bilhões, menos que o seu faturamento anual na época. Até hoje circulam na Justiça mais de 100 ações que questionam a legalidade do leilão, mormente porque os bancos escolhidos por FHC concordaram em avaliar a Vale apenas pelo critério de fluxo de caixa existente à época, descontado, não levando em conta o valor potencial de suas reservas de minério de ferro (que entraram no negócio valendo zero). Diz Pedro Simon (p. 323): “O preço não foi justo e nada democrático. Além disso, muitos países ainda mantêm empresas estatais em setores estratégicos, como mineração, metalurgia e energia – o Chile com a Codelco (mineração de cobre), a Noruega com a Norsk Hydro (mineração e metalurgia de alumínio)”. Vender uma empresa eficiente, lucrativa e gigantesca como a Vale a preço de banana, com dinheiro público, uma empresa que deveria ser a última prioridade de privatização era, no fundo, uma mensagem clara ao mercado: “Se até a Vale está sendo privatizada, é porque o processo de privatização do governo é sério” (p. 323).
No restante do livro, Palmério Dória narra uma série de casos de corrupção, nenhum investigado a contento, em que altos membros da administração tucana e seus sócios teriam recebido propina para favorecer determinadas empresas nas privatizações, muitos deles já denunciados em A Privataria Tucana (2011), de Amaury Ribeiro Júnior: a suposta propina que Ricardo Sérgio de Oliveira, na época diretor da área internacional do Banco do Brasil, teria cobrado de Benjamin Steinbruch, para favorecer o empresário no leilão da Vale (p. 180) (Ricardo Sérgio também teria participado, junto com Marcos Valério, do mensalão tucano em Minas, tendo recebido dinheiro para comprar, por R$ 7,5 milhões, prédio em BH onde se instalou agência do doleiro); o inexplicável faturamento de R$ 2 bilhões da Planefin, empresa de consultoria de Ricardo Sérgio, quando ela prestou serviços pouco precisos a Operate, subsidiária do grupo La Fonte (do empresário Carlos Jereissati), que integra a Telemar, consórcio montado por Ricardo Sérgio para arrematar parcela das teles (p. 189); os diálogos grampeados em que Pérsio Arida, do banco privado Opportunity, trata de negócios com Lara Resende, do BNDES, sob a supervisão do então ministro das comunicações Mendonça de Barros, que quer convencer Jair Bilachi, presidente da Previ (fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil), a pôr dinheiro no consórcio do Opportunity, do Daniel Dantas (p. 277-278) – um diálogo confirma a promiscuidade; Mendonça diz a Jair: “Estamos aqui eu, André, Pérsio, Pio”. Este último é Pio Borges, vice-presidente do BNDES.
Enfim, como coloca Dória (p. 248), é impossível mensurar o estrago criado por “políticas erradas, vidas arruinadas, desemprego, violência social … e os rombos de bilhões e bilhões que significam menos escolas, hospitais, ambulâncias, casas populares…Existem outros casos de privataria documentados: Fujimori está preso, Salinas exilado. Mas Fernando Henrique, aquele que teve o exílio dourado no Chile e na França, o Fernando do indecifrável Dependência e Desenvolvimento na América Latina, é o Príncipe dos Sociólogos, que cobra 50 mil por palestra e que gaba-se de nunca ter prendido ninguém (p. 248).
 Organização Comunista Internacionalista (Esquerda Marxista) Corrente Marxista Internacional
Organização Comunista Internacionalista (Esquerda Marxista) Corrente Marxista Internacional