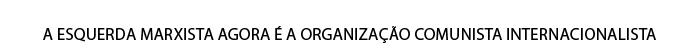A questão dos mísseis lançados pelo Hamas é simplesmente a desculpa para um ataque que já estava preparado há muito tempo (parte 1 de 2).
Na Conferência de Anápolis em novembro de 2007, celebrada por proposta de George W. Bush, foi elaborado um plano que supostamente conseguiria um acordo entre Israel e os palestinos. Pouco mais de um ano depois o plano de paz encontra-se em ruínas. A classe dominante israelense concentrou todo o seu poderio militar em pulverizar Gaza. Mais uma vez, o Oriente Médio está imerso nas chamas da guerra.
No sábado, 03 de janeiro, Israel deslocou um grande número de soldados e tanques para a Faixa de Gaza, controlada por Hamas, representando uma massiva ofensiva terrestre, apesar dos apelos europeus e árabes para um cessar fogo imediato. O assalto, segundo as notícias locais, foi acompanhado por um intenso bombardeio de aviões, helicópteros, artilharia e forças navais a partir da costa, isolando a população do centro que rodeia a Cidade de Gaza da parte sul da Faixa.
A invasão foi precedida por uma intensa e destruidora campanha de bombardeios, que provocou consideráveis danos às forças do Hamas. Destruiu também a maior parte da infra-estrutura e assassinou muitas pessoas, em sua maioria civis comuns, homens, mulheres e crianças, cuja maior parte nada tinha a ver com o Hamas. Os resultados deste ataque sobre uma população aterrorizada, privada de alimentos, água e remédios são inimagináveis. Estava claro desde o início de que era somente o prelúdio da invasão, porque toda a história demonstra que um bombardeio aéreo por si só nunca poderá ganhar uma guerra, conquistar o território ou sequer evitar o lançamento de mísseis.
Em termos puramente militares, o resultado no curto prazo não deixa nenhuma dúvida: um exército moderno, bem equipado, extremamente treinado e disciplinado está enfrentando uma força de combate fundamentalmente irregular e com armamento inferior. Os israelenses têm o controle total do espaço aéreo, como se viu no horrível bombardeio aéreo que precedeu a invasão. Não surpreende que a primeira etapa da ofensiva tenha se desenvolvido como um mecanismo de precisão. O exército israelense cortou a principal rodovia que vai até a Cidade de Gaza e a cercou, comprimindo-a como se fosse um torno de ferro.
Os líderes do mundo ocidental fazem gestos como se deplorassem a violência e apelam para que sejam detidos os assassinatos. Mas a posição adotada pelo Ocidente destila hipocrisia. George Bush é o maior terrorista do mundo. Os EUA e seus sócios da coalizão assassinaram muitos mais civis no Iraque e no Afeganistão que os israelenses em Gaza. Não têm o menor estofo moral para condenar os males da guerra e do terrorismo. Estas damas e cavalheiros se arrogam pretensiosamente o direito de se apresentarem ante as câmeras de televisão para falar dos erros dos outros.
Os israelenses não dão a mínima atenção a estas queixas. Dizem que a guerra continuará até que haja garantias de que não haverá mais ataques com foguetes. A menos que o exército israelense consiga deter estes ataques, toda a aventura terá sido totalmente contraproducente. Se fracassar, Israel não somente terá ganhado a condenação do restante do mundo (para não falar do mundo árabe), como também se revelará fraco, quando todo o objetivo da ação militar é precisamente demonstrar força. Portanto, a guerra inevitavelmente continuará, pelo menos durante algum tempo, independentemente dos protestos sinceros nas ruas ou dos protestos insinceros e lágrimas de crocodilo dos políticos burgueses.
Israel organizou sua maior ofensiva de relações públicas (que, convenientemente, inclui manter fora de Gaza os jornalistas estrangeiros). Informa-se constantemente ao mundo que os foguetes de Hamas são uma ameaça terrível para a segurança de Israel (embora desde o início da invasão tenham matado quatro pessoas). Mas os israelenses gostariam que as imagens de crianças despedaçadas pelas bombas, como bonecos rotos, sendo retiradas de suas casas destruídas fossem ocultadas. O objetivo é colocar toda a culpa desta crise sobre o Hamas e relacioná-la à “guerra contra o terror” global. A guerra continua, e continuará, até que os governantes de Israel acreditem que conseguiram todos ou a maioria de seus objetivos.
Avanço implacável
O exército israelense avança de maneira implacável. Na prática dividiu Gaza em duas partes. Embora seja verdade que o Hamas melhorou bastante sua capacidade de luta durante o último período, e que inclua um núcleo duro de combatentes treinados, não tem esperança de vitória frente ao exército israelense. A esmagadora superioridade militar do exército israelense se viu no início da guerra quando entraram em Gaza sem muitos problemas. Mas a partir de agora a situação mudará. Um porta-voz do Hamas avisou que Gaza se converteria num “cemitério” para os soldados israelenses. Mas isto é um exagero. Pelo menos inicialmente os combatentes do Hamas ofereceram somente uma resistência limitada ao ataque israelense.
Não obstante, para conseguir seus objetivos declarados, os israelenses logo terão que entrar nas zonas densamente povoadas, onde cada esquina, janela ou teto será uma emboscada potencial, cada porta será uma possível armadilha explosiva e cada transeunte civil, uma provável bomba suicida. The Financial Times escrevia: “Os milicianos do Hamas poderão infligir baixas às tropas israelenses se elas entrarem no labirinto mortal da Cidade de Gaza e em seus campos de refugiados, da mesma forma como foram elas engolidas nos barrancos traiçoeiros do sul do Líbano. Israel na caminhada não conseguiu controlar Gaza ou deter Hamas, mesmo depois de assassinar quase todos os seus líderes veteranos”.
Embora, a partir de um ponto de vista estritamente militar, o Hamas não possa derrotar o exército israelense, também não poderá haver uma “vitória” militar formal de Israel sobre o Hamas. O combate terrestre nas congestionadas cidades e campos de refugiados de Gaza representará mais baixas civis. Também significará que os israelenses sofrerão mais perdas. Mesmo a destruição dos mísseis, que é aparentemente uma tarefa muito modesta, não será fácil, visto que são principalmente pequenos artefatos caseiros que se podem transportar facilmente e ocultar em muitos lugares diferentes.
No final, os foguetes serão silenciados, ou pelo menos reduzidos, mas a um custo de vidas civis difícil de imaginar. O horrível sofrimento do povo de Gaza despertou a consciência do mundo. 75% da população não têm eletricidade; os hospitais estão saturados e a alimentação é difícil de obter. As imagens de mulheres e crianças, mortas e feridas, nas telas dos televisores de todo o mundo servirão para inflamar ainda mais as paixões do mundo árabe, alienarão ainda mais a opinião pública internacional e isolarão ainda mais Israel.
Guerras justas e injustas
O cúmulo da estupidez é deixar que a atitude de alguém perante a guerra esteja determinada pela propaganda oficial, que sempre busca colocar a culpa sobre a outra parte e apresentar as vítimas como agressores e os agressores como vítimas. Da mesma forma, é imprudente deixar-se dominar pelas emoções e avaliar a guerra em termos sentimentais ou moralistas.
O objetivo da guerra, de qualquer guerra, é submeter o inimigo. Goste-se ou não, isto implica na morte de pessoas. Os interesses dos beligerantes ditam as guerras, sejam estes interesses econômicos, estratégicos ou políticos. Em casos concretos, uma guerra é justa ou injusta a depender destes fatores e, em absoluto, não de quem disparou primeiro ou se foi um ato de ofensa ou defesa. Quando ocorrem todas as condições para um conflito armado, a explosão real das hostilidades pode ser provocada por qualquer acidente. É absolutamente superficial, não obstante, confundir o que é acidental com o que é essencial.
Do ponto de vista marxista, as únicas guerras que são justas são as guerras empreendidas pelos oprimidos e explorados contra os opressores e exploradores. Este tipo de guerra se produziu ao longo de história, começando pelas guerras realizadas por Spartacus e seu exército de escravos contra o Estado escravista romano. Nestes casos, a classe trabalhadora sempre deve estar do lado do pobre e oprimido contra o rico e o poderoso. A guerra em Gaza é uma destas guerras. É a guerra de um povo oprimido lutando por seus direitos contra um poderoso Estado imperialista. Isso é o principal. Todas as demais questões se subordinam a isto.
Os líderes israelenses dizem que esta é uma guerra defensiva. Todo estado que deseja iniciar hostilidades contra outro estado sempre deve encontrar uma desculpa para sua ação. Daí, se acreditássemos no que eles dizem, na história nunca teria havido uma nação agressora. Em 1914, a Grã-Bretanha declarou guerra à Alemanha para defender a “pobre e pequena Bélgica”, embora esta mesma pobre e pequena Bélgica submetesse brutalmente milhões de escravos coloniais no Congo. Da mesma forma, a Alemanha se defendia contra o bárbaro e agressivo czarismo russo e a Rússia se defendia contra o agressivo militarismo prussiano, e assim sucessivamente.
Esta guerra não é diferente. Ehud Olmert, o primeiro-ministro israelense, disse que o ataque tinha como objetivo tomar o controle de partes chaves da Faixa de Gaza que são utilizadas pelo Hamas e outros grupos armados para disparar foguetes contra Israel. Descreveu a última escalada como “inevitável”, acrescentando que a ofensiva pretendia garantir a paz aos residentes do sul do país. Não é a primeira vez na história que o agressor apresenta sua agressão violenta como a única forma de garantir a paz.
O argumento de que foi uma resposta aos ataques com mísseis de Hamas é claramente um subterfúgio projetado para ocultar os verdadeiros motivos. As táticas empregadas pelos israelenses proporcionam uma prova clara do que já é evidente: esta ofensiva foi preparada antecipadamente e corresponde a um plano bem elaborado. Que o Hamas tenha proporcionado de forma serviçal aos israelenses a desculpa adequada para esta agressão nada tem a ver com o assunto. The Economist (03/01/09) publicou um editorial intitulado Gaza: os erros e os acertos; nele lemos a seguinte frase: “Mas, embora deplorável, o recurso de Israel aos meios militares para silenciar os foguetes do Hamas não deveria ser uma surpresa. Esta guerra foi preparada há muito tempo”.
O que causou a guerra?
O Hamas continua disparando foguetes contra Israel (ainda o faz). Do ponto de vista militar, estes ataques são meras agulhadas. Sequer arranham o poder do estado ou do exército israelense. O que fazem é semear medo e pânico na população civil das regiões afetadas e, desta forma, proporcionar ao governo israelense a desculpa necessária para lançar este ataque. Serviu para colocar a população de Israel nos braços dos elementos mais reacionários e belicosos. Longe de minar o sionismo, o fortaleceu.
Não podemos defender o lançamento de mísseis contra objetivos civis em Israel. Mas nossa condenação destes métodos nada tem em comum com a hipocrisia cínica de Bush, que é o maior terrorista do mundo. Nossa oposição ao terrorismo não é por supostas razões morais ou por sentimentalismo pacifista. É porque estes métodos não servem e são totalmente contraproducentes.
Em todo caso, está bastante claro que o motivo real da invasão não foram estes ataques com foguetes. Segundo The New York Times o número real de mísseis lançados pelo Hamas não havia aumentado e sim diminuído antes do ataque, de centenas a somente 15 ou 20 mensais. Contudo, a resposta dos israelenses foi extremamente brutal. A ONU, com seus habituais eufemismos corteses, a chamou de “desproporcionada”. Quantifiquemos essa declaração. A Bíblia diz: olho por olho, dente por dente, uma vida por uma vida. Mas nos primeiros oito dias do conflito em Gaza morreram assassinados mais de 500 palestinos, dos quais, segundo a ONU, mais de uma quarta parte são civis. Por outro lado, Israel perdeu cinco cidadãos, incluídos dois soldados. A razão é de cem por um.
Na realidade, Israel declarou guerra ao Hamas há muito tempo. Há mais de uma forma de fazer uma guerra, e nesse rol se inclui a guerra econômica. Portanto, devemos voltar atrás nos passos que conduziram à guerra. Quando Israel saiu do enclave Mediterrâneo em 2005, não tinha intenção de permitir aos palestinos o exercício de uma genuína autodeterminação. Desde que a população de Gaza teve a temeridade de eleger o Hamas há três anos, os israelenses e o Ocidente submeteram Gaza a um implacável bloqueio econômico que provocou um lento estrangulamento da economia. Ao mesmo tempo, Israel ampliou significativamente sua ocupação da Cisjordânia e do leste árabe de Jerusalém.
O Hamas ganhou as eleições legislativas de 2006 não porque a maioria dos palestinos estivesse de acordo com suas idéias, e sim porque em grande parte, depois do suposto processo de paz e de anos de Intifada sangrenta, estava farta da corrupção dos dirigentes do Fatah e de sua colaboração com Israel. Mas os supostos democratas ocidentais não estavam dispostos a aceitar o resultado das eleições. Todos estão a favor da democracia na medida em que os resultados das eleições favoreçam seus interesses; se o resultado não lhes agrada, recorrem a todo tipo de medidas para minar e derrubar um governo eleito democraticamente, seja ele o governo de Salvador Allende no Chile, o de Hugo Chávez na Venezuela ou o do Hamas em Gaza.
Depois veio uma guerra civil sangrenta entre Hamas e Fatah, que foi instigada pelos israelenses. As forças do Fatah tentaram tomar o controle de Gaza mediante um golpe de estado no verão de 2007, mas foram derrotadas e o Hamas fortaleceu o seu poder em Gaza, para consternação de Israel e dos EUA. Estes últimos responderam submetendo o povo de Gaza ao que, na prática, é um assédio, apoiado por um isolamento diplomático total. Com estes métodos, Israel, com a cumplicidade dos EUA e da União Européia, decidiu castigar o povo de Gaza, tanto os que votaram por Hamas quanto os que não o fizeram, a morrer lentamente de fome.
Somente isto era já uma declaração de guerra unilateral. Se os EUA, a Grã-Bretanha ou qualquer outro país tivessem seus portos bloqueados, suas rodovias e fronteiras fechadas, todos os laços diplomáticos restringidos pelas ações de uma potência estrangeira, isto teria sido motivo para uma declaração de guerra. O Hamas respondeu com ataques de mísseis e atentados suicidas em Israel, o que, do ponto de vista militar, são inúteis, mas muito interessantes para os falcões israelenses. Isto alarmou aos sauditas e a outros, que apelaram para seus amigos em Washington para que interviessem e impedissem um novo conflito que poderia desestabilizar todo o Oriente Médio.
No verão passado, o governo egípcio, esporeado pelos acontecimentos em Gaza e por seus efeitos nas massas egípcias, iniciou prolongadas negociações com os israelenses que finalmente estabeleceram seis meses de trégua. Os egípcios também promoveram conversações entre Hamas e Fatah com o propósito de estabelecer um acordo de compartilhamento do poder e para pôr fim aos dois anos de luta violenta.
Mas tudo isto começou imediatamente a se desfazer. Israel intensificou as restrições comerciais e se negou a liberar um só de seus milhares de prisioneiros do Hamas. Claramente, eram ações provocadoras destinadas a minar os moderados do Hamas e a forçar um enfrentamento militar. Por outro lado, o Fatah, em seu feudo da Cisjordânia, reforçou a luta contra o Hamas, com dezenas de detenções e a demissão de uns 400 professores que, dizem eles, eram filiados ao Hamas.
Depois do cessar fogo, não houve tentativas sérias de negociação com o Hamas. Em seu lugar, houve uma provocação depois de outra. Em Israel, a proximidade das eleições e a crise de governo também levaram a um endurecimento das posições. Nestas condições, nenhum político israelense pode se permitir apresentar-se como brando na questão do Hamas. Pelo contrário, existe uma espécie de concorrência para ver quem pronuncia os discursos mais belicosos. Quando dois lados estão preparados para a guerra, os discursos belicosos podem adquirir lógica própria.
Quando se cerca um animal sem deixá-lo com possibilidades de fuga, já se sabe que ele reagirá com mordidas. Antes do final da trégua oficial em 19 de dezembro, o cessar fogo já se encontrava morto. A direção do Hamas concluiu que o acordo com Israel não representava nenhum benefício para Gaza. Repetiram suas acusações de que Abbas havia se vendido a seus promotores ocidentais e que não buscavam outra coisa além da destruição do Hamas. O Egito, o suposto mediador, na realidade era cúmplice do assédio israelense. A partir da lógica dos dirigentes do Hamas, o fracasso do cessar fogo não lhes deixava alternativa que não fosse continuar lançando foguetes sobre Israel.
Este “olho por olho” evidentemente terminaria com a explosão das hostilidades. A provocação final chegou em novembro quando Israel assassinou seis milicianos que, dizem eles, estavam cavando túneis para iniciar um assalto sobre Israel. Hamas respondeu com uma bateria de foguetes, o que proporcionou a Israel a desculpa necessária para lançar uma ofensiva há muito tempo preparada. A invasão de Gaza era o resultado inevitável.
Impotência da ONU
Mais uma vez, a chamada “Organização das Nações Unidas” revelou sua total impotência. Quando o Conselho de Segurança se preparou para se reunir no sábado pela noite, Ban Ki-moon, o secretário geral da ONU, telefonou ao primeiro-ministro israelense Ehud Olmert para comunicar-lhe sua profunda preocupação com a operação terrestre de Israel. “Está convencido e alarmado de que esta escalada inevitavelmente aumentará o já terrível sofrimento das populações civis afetadas”, segundo dizia um porta-voz do escritório de Ban. Sim, estão todos profundamente “preocupados”. Mas a preocupação destes cavalheiros não evita o derramamento de uma só gota de sangue e tem caráter puramente teatral.
Durante meio século, a ONU aprovou resoluções sobre a questão palestina sem o menor resultado. Agora, sequer são capazes de aprovar uma resolução. Há poucas horas do início da ofensiva de Israel, os EUA haviam bloqueado a petição do Conselho de Segurança da ONU para um basta ao fogo imediato feita pelo único membro árabe do conselho, a Líbia. Embora houvesse uma “intensa convergência” dentro do conselho sobre a necessidade de “deter a violência”, os EUA se negaram a aceitar até mesmo o compromisso de uma declaração de imprensa conjunta. A declaração presidencial requer o consenso dos 15 estados membros e, em qualquer caso, é insuficiente em relação a uma resolução vinculante da ONU.
Os funcionários da ONU sugeriram que a oposição dos EUA a qualquer resultado que pudesse implicar em críticas a Israel estava determinada pelas declarações da Casa Branca que colocaram a culpa sobre o Hamas desde o início da crise. Naturalmente! As declarações de Alejandro Wolff, embaixador adjunto norte-americano, simplesmente foi o eco das declarações da administração Bush, incluída Condoleezza Rice, secretária de estado, dizendo que a situação em Gaza “não permitiria regressar ao status quo anterior”.
Que significa isto? Significa que até que o exército israelense tenha terminado de golpear o povo de Gaza até sua submissão e de destruir o Hamas, não haverá cessar-fogo. Estas declarações brutais são somente o reconhecimento da crueldade da situação. E o beco sem saída da ONU expõe com crueldade a impotência do Conselho de Segurança. Depois de três horas e meia de sessão do conselho sem resultados no sábado à noite, Wolff repetiu a mentira de que a causa da crise eram os contínuos ataques com foguetes de Hamas contra Israel. “Os EUA”, disse ele, “não viam perspectiva do Hamas atender a uma petição de cessar-fogo da ONU” e, portanto, não seria bom que o conselho fizesse declarações às quais ninguém iria aderir.
Este exemplo de sofisma merece um lugar de honra nos anais da hipocrisia diplomática. Em primeiro lugar, numa guerra sempre há pelo menos dois lados. Presume-se que o Hamas não aceitaria e, portanto, essa resolução seria uma “perda de tempo”. Dessa forma, o representante dos EUA na ONU somente menciona um lado, Hamas, mas não menciona Israel. Aceitaria Israel a petição de cessar-fogo da ONU ou não? A pergunta ficou sem resposta.
Em segundo lugar, o argumento é totalmente falso. De acordo com esta lógica não se deveria aprovar resoluções da ONU com relação às supostas armas de destruição em massa do Iraque antes da invasão norte-americana desse país. Pelo menos os EUA aprovaram mecanicamente “resoluções pela paz” na ONU. Neste caso, em troca, apóia abertamente um ato de agressão nua sem nenhuma delicadeza diplomática. E a ONU diz: “Amém!”.
Na realidade, o que se revelavam nesse episódio eram a verdadeira posição da ONU e a atitude de Washington com relação a ela. Os imperialistas utilizam a ONU como um clube de discussão para perpetuar o mito da “lei internacional” e da existência de um organismo mundial que se encontra acima dos interesses nacionais das grandes potências. Isto está planejado para enganar os ingênuos que acreditam em apelos à ONU para deter as guerras. Os reformistas de esquerda são particularmente propensos a estas ilusões. Mas na realidade todas as questões sérias são decididas, como sempre aconteceu, pela força. Somente os pacifistas irremediáveis e as pessoas que acreditam em contos de fadas podem ter alguma confiança na ONU. A diplomacia internacional em geral e, em particular a diplomacia da ONU, continuam sendo o que sempre foram: uma decepção cínica das pessoas e uma máscara conveniente para a agressão.
Obama e Bush
Sabe-se muito bem que há um grande jogo de interesses do imperialismo norte-americano no Oriente Médio, tanto por razões estratégicas quanto econômicas (petróleo). Também se sabe que o único aliado confiável que Washington tem na região é Israel. Isso explica a atitude de George Bush ante o conflito.
Não obstante, é importante ter em consideração que, embora seja Israel um fiel aliado do imperialismo estadunidense na região, isto não significa que não tenha interesses próprios – e estes não coincidem necessariamente com os dos EUA em todos os momentos. Durante a Guerra Fria, quando ainda existia a URSS, e países como o Egito, a Síria e o Iraque estavam em sua esfera de influência, os norte-americanos estavam obrigados a apoiar Israel, quase sem reservas. Mas desde a queda da URSS, já há vinte anos, esta situação variou até certo ponto.
Washington necessita cultivar o mundo árabe, tranqüilizar os nervos da Arábia Saudita e ganhar amigos e influência popular (sobretudo com os que têm petróleo). Por isso, Bill Clinton em 2000 começou a pressionar Israel para que alcançasse um acordo com a OLP. A classe dominante israelense nunca ficou entusiasmada com esta idéia, mas não tinha alternativa além de apertar os dentes e aceitar, porque Washington paga as faturas e, como sabemos, quem paga a banda escolhe a música. O resultado foi o aborto dos acordos de Madri e Oslo, que estabeleceram um pequeno estado truncado na Cisjordânia, separado de Gaza. Foi uma completa paródia que não satisfez a ninguém. Os palestinos aceitaram isto entendendo que era somente o primeiro passo em direção a um verdadeiro estado palestino. Contudo, vinte anos depois, não estamos próximos deste objetivo.
Agora, nos últimos dias de sua administração, Bush novamente deu apoio incondicional a Israel em seu ataque a Gaza. Era totalmente previsível. Pelo menos George Bush fala com clareza. Não há dúvida sobre qual lado ele está nesta guerra. Mas que se passa com o novo presidente, o novo fazedor de milagres, o pacificador Barack Obama? Qual é a sua posição sobre a guerra e o que disse sobre ela? Não disse nada, usando o pretexto de que ainda “não era o presidente” e que “os EUA devem falar com uma só voz”.
Apesar de seu diplomático silêncio, sabemos muito bem o que pensa Obama. Em uma visita a uma cidade israelense em julho do ano passado disse: “Se alguém está lançando foguetes sobre minha casa, onde todas as noites dormem minhas duas filhas, farei o que estiver em meu poder para detê-lo. E esperaria que os israelenses fizessem o mesmo”. Obama se esquece de mencionar o pequeno detalhe de que o território palestino está ocupado pelos israelenses, da mesma forma que o território dos EUA esteve ocupado pela Grã-Bretanha no século XVIII, quando o povo norte-americano, embora não dispusesse de foguetes, utilizou meios igualmente violentos para expulsar os invasores.
Então, não há diferença entre Bush e Obama? Os interesses do imperialismo estadunidense no Oriente Médio são os que determinam as ações de ambos. Nesse sentido, não há uma diferença real. Mas existem diferenças importantes sobre como interpretar estes interesses; segundo mudam as circunstâncias podem se modificar as táticas dos políticos que compartilham do mesmo interesse. O lema do corpo de fuzileiros dos EUA é: “falar com delicadeza tendo nas mãos um grande porrete”. Mas, como seu predecessor Ronald Reagan, George Bush representa a ala mais agressiva, provinciana e obtusa da classe dominante norte-americana. Sua inclinação natural é a de falar alto e golpear a todos nos olhos com um taco de beisebol. Esta tática às vezes pode ser cruelmente efetiva, mas no longo prazo pode criar muitas dores de cabeça.
Obama é um representante mais sutil e inteligente do imperialismo que Bush. Herdou uma situação difícil, tanto nos EUA quanto internacionalmente. Há uma crise econômica, o desemprego aumenta e caem os níveis de vida no país, além do legado de desastres da política exterior no estrangeiro. Nos EUA, o pessimismo e o descontentamento aumentam, e isto se refletiu na eleição de Obama, que deve fazer algo para pacificar as coisas. Um dos compromissos de Obama durante a campanha eleitoral foi o de começar a retirar as tropas norte-americanas do Iraque. A opinião pública estadunidense, totalmente oposta à guerra, exigirá que este compromisso seja cumprido. Mas, daqui, derivam-se algumas coisas.
Será impossível realizar a retirada do Iraque a menos que Washington esteja disposto a negociar tanto com a Síria quanto com o Irã; ambos têm influência dentro do Iraque e em outras zonas da região. Mas Damasco e Teerã serão negociadores duros e uma parte dessa negociação deve incluir a questão palestina. Como a Síria e o Irã postularam-se há tempos como defensores da causa palestina, é impensável que esta questão não apareça na agenda.
Israel sabe muito bem de tudo isto, que deve ter sido um elemento importante em sua decisão de invadir Gaza. Como expressava The Economist: “Com a ameaça nuclear do Irã no horizonte e com a crescente influência iraniana tanto no Líbano quanto em Gaza, Israel quer lembrar aos seus inimigos que o estado judeu ainda pode lutar e ganhar”. Na realidade, os imperialistas israelenses estão dizendo a Obama (e a qualquer um que esteja disposto a ouvi-los): Não esqueçam que ainda estamos aqui e que somos uma potência que deve ser levada em consideração! Podemos estabelecer ou romper qualquer acordo a que chegueis! Ignorar-nos é um risco para vós!
As diferenças entre os imperialistas
Como sempre, há matizes diferentes entre as potências imperialistas, como também há diferentes interesses materiais em jogo. Há diferenças entre os EUA e a Europa, como as que há dentro da União Européia e também entre Bush e Obama. Enquanto no curto prazo estas diferenças não alterarão o curso da guerra em Gaza (os israelenses têm seus próprios interesses a defender), podem ter conseqüências importantes no que ocorrer mais tarde, uma vez acabada a guerra.
Os estrategistas do imperialismo estão seriamente preocupados com este conflito. Estas preocupações nada têm a ver com considerações humanitárias, com a perda de vidas ou com o sofrimento dos palestinos. Refletem os riscos que existem para os interesses do imperialismo no Oriente Médio, que é uma zona chave na arena mundial. Em um editorial do Financial Times, publicado em quatro de janeiro, intitulado de Um jogo perigoso em Gaza, podia-se ler o seguinte:
“A decisão de Israel de enviar tropas terrestres e blindadas à Faixa de Gaza é um jogo perigoso. Se o objetivo é o de reduzir o número de foguetes que Hamas pode disparar às cidades próximas do sul de Israel, provavelmente é viável, por enquanto. Mas se o que Israel se propõe é acabar com seus oponentes mais implacáveis, fracassarão.
“Em qualquer caso, a acumulação de baixas, incluídas as civis, decorrente do desproporcionado bombardeio aéreo, marítimo e da artilharia de Israel nas zonas urbanas densamente povoadas, obscurecerá assim a sua reputação e minará a opinião dos árabes e palestinos moderados, e sua posição política se verá seriamente debilitada”.
Portanto, alguns governos, especialmente na Europa, estão ansiosos para dar fim às hostilidades tão logo quanto seja possível e chegar a algum tipo de acordo. Alarmados pelas possíveis repercussões da invasão de Gaza, a União Européia enviou não somente uma, mas duas missões à região, embora não esteja claro que elas possam conseguir outra coisa que não seja um salário muito satisfatório. Querem um “cessar fogo vigiado internacionalmente, com duração suficiente para a retomada e conclusão das negociações sobre esta base; para que Israel então levante o bloqueio e para que novas eleições decidam quem fala pelos palestinos – o Fatah, cuja posição está erodindo rapidamente devido a esta crise, ou o Hamas, ou uma combinação dos dois” (The Financial Times, 04/01/2009).
Políticos como Gordon Brown e Tony Blair derramam lágrimas de crocodilo pelos horrores da violência, da morte de inocentes e coisas semelhantes, e apelam constantemente pela paz (“um cessar-fogo imediato”). Estas palavras soam muito bonitas, mas, na realidade, são somente palavras vazias. O fato é que não há paz e sim guerra, e nossa atitude em relação à guerra não está determinada pelo fato de que as pessoas morram (como sempre acontece nas guerras), e sim pelas causas reais do conflito e pelos interesses que há em jogo.
Como habitualmente, a França desempenha seu próprio papel no Oriente Médio. Não foi casual o encontro de Abbas na segunda-feira com o presidente francês Nicolas Sarkozy, em Ramallah. Diferentemente da Grã-Bretanha, a França nem sempre esteve disposta a dançar conforme o ritmo marcado por Washington e a sacrificar seus interesses nacionais ante os de Israel e dos EUA. A França quer por suas mãos no petróleo e nos mercados do Oriente Médio, ambicionados pelo imperialismo norte-americano, e está disposta a pescar em águas turbulentas e ocasionalmente pisar nos dedos de Washington para melhorar suas relações com o mundo árabe. Contudo, em última instância, a França é somente um pequeno jogador em escala mundial. Sua intenção é a de se apresentar como “amiga dos árabes”, mas, além de ser hipócrita, também não pode resolver nada.
Mais uma vez, o governo britânico aparece como o lacaio servil de Washington. A única diferença entre os dois é que, enquanto Bush fala com cínica franqueza, as declarações dos britânicos estão repletas de hipocrisia pretendendo criar uma falsa impressão de imparcialidade, como pílulas de cianureto recobertas de açúcar. John Sawers, embaixador da Grã-Bretanha na ONU, disse que se encontrava “muito desencantado” com o fracasso da reunião da ONU no sábado pela noite. Disse que se devia estudar a idéia de enviar observadores e que se deviam encontrar formas de evitar o contrabando de armas em Gaza, o que tinha contribuído para a crise.
Que significa isto? Como se podem deslocar observadores quando a guerra está no auge? Quando estão assassinando pessoas? Podemos ver isto simplesmente ligando os televisores. Os observadores podem ser enviados para monitorar um cessar-fogo. Mas, se não há cessar-fogo, que papel desempenhariam os observadores? Somente este: evitar o contrabando de armas a Gaza. Israel possui o exército mais poderoso da região e está armado com os últimos tipos de armas de destruição. Em comparação com isto, o arsenal palestino é liliputiano. Apesar disto, para a diplomacia britânica, toda a questão se reduz à necessidade de se evitar que as armas cheguem aos palestinos, que podem “contribuir para a crise”.
Isto não é divertido? O que se propõe em Londres (e em Washington) é desarmar os palestinos face à continuada agressão israelense. Isto é, querem desarmar os oprimidos frente ao opressor. Mas há um pequeno problema que muito seguramente pode “contribuir para a crise”, a saber, os palestinos já têm armas e as estão utilizando para se defender. Que se deve fazer com estas armas? Devem ser tomadas dos palestinos (para garantir a paz). Como, infelizmente, os palestinos se negam a se desarmar, alguém deve recuperar pela força suas armas (em nome da paz, naturalmente). Esse alguém é o exército israelense, que está fazendo um trabalho muito rigoroso de “pacificação” (através da guerra).
E assim, no máximo com um suspiro, os diplomatas profissionais em Londres enxugam as lágrimas dos olhos e obedientemente ficam atentos por trás dos norte-americanos e dos israelenses. As declarações públicas de simpatia com as vítimas inocentes da violência (99% dos quais são palestinos) são simplesmente uma cortina de fumaça para ocultar da opinião pública indignada que a política dos governos “democráticos” da Europa e dos EUA é ficar por aí e nada fazer, enquanto Gaza é esmagada.
Os objetivos de Israel
Quais são os objetivos bélicos de Israel neste conflito? Quer esmagar todo o potencial militar possível do Hamas, intimidar e aterrorizar a população de Gaza e enviar uma mensagem de advertência a outros países da região (e, indiretamente, a Washington) de que eles têm um poder que não pode ser controlado. Embora os foguetes do Hamas não tenham sido a principal causa da invasão, Israel não pode afirmar que teve êxito se os foguetes continuarem caindo sobre o território israelense.
Portanto, continuarão a destruir metodicamente tantas forças e infra-estrutura militar do Hamas quanto seja possível. Em primeiro lugar, devem localizar e destruir os mísseis que são lançados sobre o território israelense – suposta causa desta guerra. Em segundo lugar, tentarão encontrar e assassinar tantos quadros dirigentes do Hamas quanto possam e (esperam) esmagá-la como força de combate viável. Querem destruir as linhas de abastecimento que permitam ao Hamas receber armas e outro material do Egito. Isto levará tempo e a guerra continuará até que se tenham cumprido todos os seus objetivos.
Há outros objetivos que não são militares, mas políticos, e que nunca são mencionados. O primeiro está relacionado com as próximas eleições em Israel, onde há uma crise econômica, social e política crescente. Como reflexo desta crise produziu-se uma série de divisões na direção política de uma coalizão cada vez mais débil. Há lutas internas sobre estratégia entre Tzipi Livni, ministra do exterior e líder do partido governante Kadima, e Ehud Barak, o belicoso ministro da defesa e líder do Partido Trabalhista. Este enfrentamento chegou a tal ponto que Haaretz, um dos principais jornais, defendia o cessar-fogo – dentro do gabinete israelense.
As eleições gerais serão celebradas em fevereiro e está claro que ambos os líderes tentam competir com Benjamin Netanyahu, líder do partido direitista e chauvinista Likud. Em particular, Barak tenta parecer mais agressivo e nacionalista que o falcão Netanyahu. Estas considerações eleitorais sem dúvida constituem um fator na situação, mas não esgotam toda a questão. Em um tema importante como a guerra, questões mais fundamentais que a política eleitoral encontram-se em jogo e interesses diferentes estão envolvidos.
Um elemento importante na equação é o prestígio das forças armadas israelenses, que foram severamente derrotadas nos 34 dias de guerra contra o Hezbollah no Líbano em 2006. O Establishment militar israelense, ainda perturbado com sua humilhação no Líbano, gostaria de demonstrar a superioridade das forças armadas israelenses. Querem restabelecer a credibilidade do poder dissuasório de Israel. Um ataque sobre Gaza se apresenta como a oportunidade ideal e os planos obviamente estavam preparados com antecedência. A questão dos mísseis é simplesmente a desculpa para um conflito inevitável.
A atual operação em Gaza é conseqüência direta da guerra de 2006 no sul do Líbano, mas de forma alguma significa que terá resultado comparável. Os generais israelenses tiveram tempo suficiente para absorver as lições e provavelmente estão mais bem preparados. Sua intenção, agora, é realizar um ataque limitado que cause sérios danos à capacidade de luta de Hamas e assassinar o máximo de líderes e militantes antes da retirada, depois de haver infligido o máximo de danos à economia e à infra-estrutura de Gaza para que demore muito tempo para ser reconstruída.
Diferentemente da guerra no Líbano, preparada às pressas e com uma resposta militar improvisada, desta vez a operação foi preparada cuidadosamente. As condições físicas desta guerra também são diferentes. Pequena, plana e isolada, Gaza apresenta um entorno mais simples que o Líbano. Os israelenses se movimentaram rapidamente para dividir em duas a Faixa. Isto dá ao exército israelense a vantagem de poder controlar a situação, em caso de se verem obrigados a manter Gaza por muito tempo, reduzindo a capacidade das principais concentrações de combatentes que estão no norte de conseguir abastecimento do sul. Embora possa haver algum tipo de revés, na atualidade o exército israelense mantém Gaza segura pela garganta.
(Fim da primeira parte)
Londres, 8 de Janeiro de 2009.
Clique aqui para ler a segunda parte.
 Organização Comunista Internacionalista (Esquerda Marxista) Corrente Marxista Internacional
Organização Comunista Internacionalista (Esquerda Marxista) Corrente Marxista Internacional